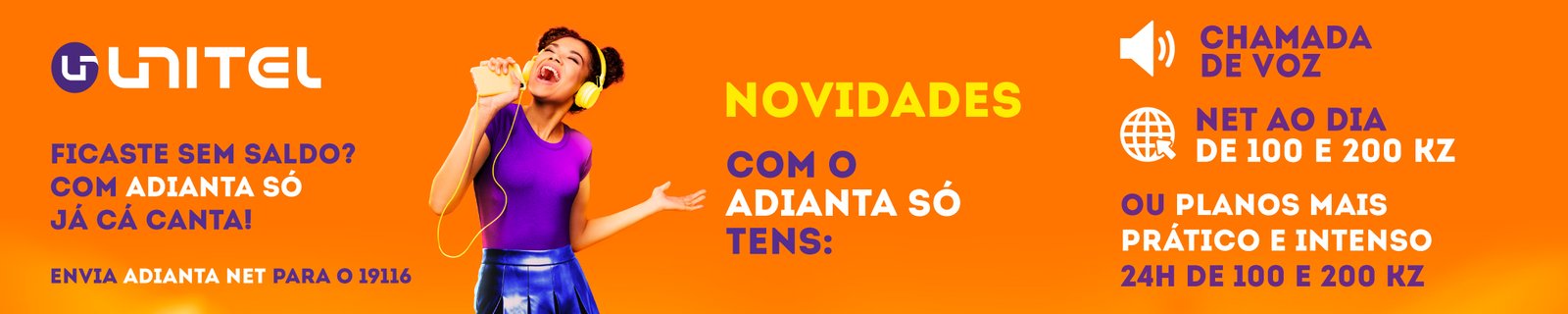Escrevi uma vez num ensaio para a Penthouse que Elizabeth Taylor foi uma “pré-feminista” e que “ela detém um poder sexual que o feminismo não consegue explicar e tentou destruir”. E argumentei: “Através de estrelas como Taylor, pressentimos o impacto de mulheres lendárias como Dalila, Salomé e Helena de Tróia que sacudiram mundos. O feminismo tem tentado desvalorizar a mulher fatal como um libelo misógino, um estereótipo vetusto. Mas a mulher fatal exprime o antigo e eterno domínio feminino da esfera do sexual.”
Nessa altura, em 1992, Taylor ainda era subestimada como actriz. Ninguém a levava a sério – e ela até brincava com isso publicamente. Quando eu escrevi esse texto, Meryl Streep era constantemente aclamada como a maior actriz de todos os tempos. Eu rebelei-me em absoluto contra isso e lancei esse protesto por pensar que Taylor era realmente melhor actriz, embora Streep dominasse uma certa competência técnica.
À medida que a década foi avançando e as pessoas tiveram a oportunidade de ver os antigos filmes de Taylor nas televisões por cabo, começaram a vê-la de outra maneira e a sua força como actriz tornou-se evidente. Com o tempo – mas depois, claro, do auge da sua carreira –, Taylor conquistou finalmente o respeito de toda a gente.
Para mim, a importância de Taylor como actriz reside no facto de ela representar uma feminilidade que é hoje impossível de encontrar nas telas inglesas ou americanas. Essa feminilidade radicava na realidade hormonal – na vitalidade da Natureza. Ela era, por si só, um ataque em forma de gente ao pós-modernismo e ao pós-estruturalismo que afirmam que o género não passa de uma construção social.
Deixem-me dar um exemplo. Os Miúdos Estão Bem, de Lisa Cholodenko, é um filme fantástico, mas Julianne Moore e Annette Bening – que está lindamente e devia ter ganhado o Óscar pelo seu retrato prototípico de uma mulher de carreira da América contemporânea – surgem penosamente escanzeladas no ecrã. Trata-se do visual faminto padrão que é hoje projectado pelas estrelas de Hollywood: uma silhueta ossuda, anoréctica, esculpida a Pilates, que não tem nada a ver com a imagem das mulheres tal como a maioria das pessoas as vêem. Há quase alguma coisa de andróide nas representações de mulheres que nos estão a ser dadas por Hollywood.
Se Gwyneth Paltrow tivesse crescido nos anos 30, teria sido considerada um mono irremediavelmente desengraçado e detestaria a sua figura esgalgada. Mas não há nada nela que hoje não esteja a ser vendido às jovens americanas como ideal supremo. A imagem de Taylor foi, de início, uma continuação da de Ava Gardner. Eram senhoras de um vigor e de uma espontaneidade naturais, de um magnetismo animal, embora tanto uma como outra não dominassem, no princípio das suas carreiras, capacidades técnicas básicas, em particular a dicção. É por isso que as pessoas elogiam Streep: “Ah, ela faz os sotaques tão bem… Ah, a articulação dela é perfeita…” Mas ela não habita realmente as suas personagens, limita-se a vesti-las. Streep está sempre a mascarar-se. Mas é tão superficial. Vem tudo do cérebro, não do corpo ou do coração.
Richard Burton, de quem se dizia que sucederia a Laurence Olivier como o grande actor shakespeariano, comentava frequentemente que aprendera muito com Taylor sobre a forma de trabalhar com a câmara. A representação cinematográfica é extremamente sóbria. O mais pequeno pestanejar diz muito, e é aí que Taylor era muito superior a Streep. Streep está sempre a dar à manivela, a esforçar-se, exigindo que o público agradeça: “Vejam o que tenho de passar! Vejam o que faço por vocês!” Streep é uma boa actriz, é uma actriz inteligente, mas não chega aos calcanhares de Taylor na tela. Porque não tinha formação teatral como Streep, Taylor tinha debilidades vocais; quando falava mais alto tornava-se, por vezes, um pouco esganiçada – o que era perfeito para a Martha de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, mas não tanto para Cleópatra. Mas era um fruto maduro, opulento, sumarento. Taylor tinha um imenso amor pela vida.
Adorava comer e beber, adorava ninharias e tinha um sentido de humor fantástico – dizia-se que as gargalhadas estridentes dela se ouviam a um quilómetro de distância. Era uma mulher básica e terra-a-terra que também era capaz de fazer de rainha se fosse preciso. As suas representações são indeléveis – por exemplo, aquele plano interminável no final deBruscamente no Verão Passado quando Catherine se recorda, finalmente, da forma como o seu primo gay, Sebastian, foi massacrado e canibalizado por um grupo de rapazes que queria engatar.
Taylor foi uma colossal deusa pagã para mim desde os meus 11 ou 12 anos. Tive o privilégio de a ver no seu auge. E a minha sensibilidade como feminista e crítica cultural foi fortemente influenciada por ela. Na América, durante os anos 50, as loiras eram o supremo ideal ariano. As atrevidas, como Doris Day, Debbie Reynolds e Sandra Dee, mandavam no galinheiro. E depois havia Taylor, com aquele visual étnico, morena, deslumbrante. Parecia ser judia, italiana, espanhola ou mesmo moura. Era verdadeiramente transcultural – uma resistência radical ao domínio das loiras rainhas de beleza dos liceus e cheerleaders. E depois a sua sensualidade indisfarçada naquele período de puritanismo: que ousadia! Andava com uns atrás dos outros.
A tragédia da morte do marido, o produtor Mike Todd, num desastre de avião – e, logo a seguir, rouba o cantor Eddie Fisher a Debbie Reynolds. Não há palavras que descrevam a satisfação que senti com a enorme humilhação que ela infligiu a Reynolds. Entretanto, acabei por respeitar tanto Reynolds como Doris Day que foram excelentes comediantes, mas na altura não as suportava. Representavam o ideal de menina bem-comportada e xaroposa que os pais e os professores e todas as referências culturais tentavam impor-me, a mim e aos jovens da minha geração. Taylor era má. Era uma rapariga mal-comportada. E eu adorava isso.
Havia nela algo de robusto quando comparada com os vulneráveis frangalhos emocionais que eram Marilyn Monroe e Rita Hayworth. Hayworth também projectava uma feminilidade abrasadora no ecrã, mas Taylor era rija. Tinha instinto de sobrevivência. E esse era outro dos seus trunfos: a forma como conseguia superar todas as tragédias pessoais e experiências de quase-morte e canalizar esse capital de sofrimento para a representação. Quem se pode esquecer de quando esteve quase a morrer de pneumonia em Londres, em 1961? Foi fotografada a ser levada de maca para o hospital, onde fez uma traqueotomia de urgência. Mas regressa rapidamente e ganha um Óscar com O Número do Amor.
Numa das grandes noites televisivas da minha vida, vi a cerimónia dos Óscares da Academia e rezei incessantemente para que ela ganhasse. Ela subiu ao palco, com o pescoço descoberto, sem uma ligadura, sem um penso rápido sequer a tapar a cicatriz, que estava à vista de todos, e disse, numa voz débil e emocionada: “Muito, muito obrigada.” Fiquei delirante! No dia a seguir, na escola, tive de fazer um esforço enorme para me concentrar. E depois aquelas gloriosas fotografias a cores na revista Look, com ela sentada numa festa, segurando serenamente o seu Óscar – deslumbrante!
O Número do Amor (em que Taylor encarna uma call girl de luxo de Manhattan) era a minha bíblia. Ela não o queria fazer e toda a vida o detestou, mas aquele filme representou tudo para mim na minha adolescência. A primeira cena dela no filme, numa combinação branca justíssima, é fantástica. O vestido jaz rasgado no chão, ela lava os dentes com uísque e, furiosa, escreve no espelho a bâton: “Não estou à venda!” Para mim, ela representava a mulher sensual na sua expressão máxima.
Há muito que as feministas acusam as sex symbols de Hollywood de serem objectos sexuais, meras mercadorias, passivas aos olhos dos homens – que disparate! E O Número do Amordemonstra-o. Há uma cena incrível num bar em que ela veste um elegante vestido preto e está a discutir com Laurence Harvey. Ele agarra-a pelo braço e ela espeta-lhe o salto agulha num pé. É homem versus mulher numa feroz luta entre iguais. Ele é forte, mas ela não lhe fica atrás. Essa cena mostra a força e a intensidade da heterossexualidade, com todas as suas tensões e conflitos. Mostra também como a cinematografia de Hollywood anda pelas ruas da amargura, como o sexo se tornou falso e fabricado.
Já não há erotismo verdadeiro. O Número do Amor ressuma erotismo, dada a distância psicológica e a atracção animal entre homem e mulher. Os homens de negócios do filme estão todos de uniforme com os seus fatos pretos. São uma horda de lacaios idênticos e sem identidade. Têm riqueza, têm poder, mas não são nada quando comparados com ela. O filme capta na perfeição as complexidades e as batalhas da sexualidade – que se perderam todas nesta nossa era de fácil gender-bending. Hoje em dia tornou-se tudo tão brando, tão chato.
Não há dúvida de que a era das grandes rainhas do cinema chegou ao fim. Sharon Stone teve o seu momento solar em Instinto Fatal. Não apenas na famosa cena de interrogatório na esquadra, mas ela mandava no sexo e na câmara em todo o filme. Foi um desempenho espectacular – mas, depois, o filme como que se autodestrói. Na altura, tive um breve momento de esperança: será que o sexo à maneira de Hollywood está finalmente de volta? Mas não. Nunca mais conseguiram nada de tão bom para Stone e a oportunidade desvaneceu-se.
Angelina Jolie esteve espantosa em Gia, filme em que faz o papel da modelo bissexual Gia Carangi, que morreu de sida. Tinha a sensualidade e a energia animal de Ava Gardner, que praticamente ninguém conseguiu até hoje replicar. Mas, depois de se ter tornado imensamente famosa no mundo inteiro, Jolie decidiu tornar-se uma grande humanitária. De repente, pensa que é embaixadora das Nações Unidas para toda a miséria humana do planeta. Tudo se torna high concept e em breve terá uma colecção multi-racial de filhos. O resultado é o esbatimento total da sua imagem artística. De certa forma, Jolie tem o problema de ser uma estrela na era dos paparazzi – em que se é muito mais acossado do que até Taylor foi, em que quase não existe um lugar na Terra onde se possa pensar sossegado.
Assim, Jolie tornou-se defensiva e dissimulada e hoje há algo de demasiado calculado e manipulador na sua imagem pública – e ela é menos interessante do que já foi. Claro que não há ninguém a escrever grandes papéis para ela. Jolie obtém papéis em filmes de aventuras, como Lara Croft em Tomb Raider, em que uma mulher contemporânea tem de mostrar que é rija e que consegue andar à porrada com os homens. Mas não tenho a certeza de que conseguisse dar conta de papéis que Taylor interpretou tão bem, como Gata em Telhado de Zinco Quente. Há descontracção no cerne do estilo de representação de Taylor – e em Elizabeth Taylor, a mulher –, ao passo que se sente sempre uma certa cautela ou tensão em Jolie.
Vivemos num período em que tudo, tanto o corpo como o espírito, tem de estar em boas condições. E isso deve-se, em parte, ao facto de estarmos na era pós-grandes estúdios. Taylor foi uma criação do velho sistema de estúdios de Hollywood. Na verdade, foi uma das suas últimas grandes produções. E num estúdio era-se muito protegido enquanto se crescia. Era um ambiente familiar que algumas pessoas (como Katharine Hepburn e Bette Davis) achavam claustrofóbico. Mas foi fundamental para alguém como Taylor. Jolie, pelo contrário, teve uma vida dura, instável, cheia de altos e baixos. É rija, é uma sobrevivente, é um pouco cínica. Em Taylor nunca se sente cinismo. Ela é cínica quando tem de dar essa faceta, como em Quem Tem Medo de Virginia Woolf, mas ela própria não o é. Nunca houve um grama de cinismo nela. Ao que toda a gente diz, era uma mulher calorosa e maternal.
E há outra coisa: todas as estrelas acumulam filhos, recrutando exércitos de amas. Apesar de todos os seus filhos, ninguém diria de Jolie que é maternal. A maternalidade de Taylor, porém, é fundamental para o seu poder heterossexual. Ela era capaz de controlar os homens. Ela gostava de homens. E os homens gostavam dela. Havia química entre ela e os homens, e essa química derivava do seu instinto maternal. Há anos que escrevo sobre isto, em parte porque vi a actuação de Taylor na tela e fora dela. A mulher heterossexual feliz e bem sucedida sente ternura e instinto maternal em relação aos homens, mas isso perdeu-se completamente na nossa era feminista. Hoje, as mulheres dizem aos homens: tens de ser o meu companheiro e tens de ser igual a uma mulher; tens de ser o meu melhor amigo e ouvir-me tagarelar. Por outras palavras, as mulheres já não gostam bem dos homens; elas querem que os homens se comportem como se fossem mulheres.
Taylor gostava de homens e os homens gostavam de estar com ela porque sentiam isso. Mas não era uma pessoa fácil. Respondia na mesma moeda. Tinha discussões de partir tudo com Burton, e adorava-as. Nunca nenhum homem mandou nela. Nem por um segundo.
Exclusivo Sunday Times . Tradução de Maria Eugénia Colaço
* Camille Paglia é professora de Humanidades e Estudos dos Media na Universidade das Artes de Filadélfia. Pode ler-se a versão original deste artigo em Salon.com. Publicado com autorização.